Professora com processo disciplinar por referir nacionalidade de aluna: hipocrisia e ataque à liberdade de expressão
Alfred
Hitchcock Presents / The Gloating Place - Monika Henreid
Uma professora tem um processo disciplinar, de que se está a
defender, porque num documento interno da escola se referiu a uma aluna de uma
determinada nacionalidade, dizendo: “a aluna de nacionalidade x com determinado
nome” tem uma série de problemas e, ao referir os problemas, visava proteger,
apoiar e obter recursos para que esta aluna pudesse ser apoiada
convenientemente. Por
mencionar a nacionalidade da aluna, apenas e só a nacionalidade da aluna, a
professora tem um processo disciplinar por discriminação. Isto é, a mera
menção da nacionalidade da aluna foi interpretada como um ato discriminatório,
levando à abertura de um processo disciplinar.
Enquanto isso, vimos recentemente em todas as redes
noticiosas a seguinte notícia: “Ministério Público investiga ‘linchamento’ de criança nepalesa
em escola de Lisboa”. Assim, com estes argumentos, aplicados pela
inspetora que justifica o processo disciplinar à professora, podemos fazer o
mesmo, processos disciplinares por discriminação, com todos os OCS que
referiram a nacionalidade da aluna?
Se isto não bastasse, também tivemos, a semana passada, o presidente da Assembleia da
República Portuguesa a declarar que “é possível dizer que os turcos são
preguiçosos” sem que isso tenha problema algum. Acrescentando que quem
faz o julgamento do que é dito na Assembleia da República “é o povo quando
formos a eleições”. A flagrante contradição entre os dois casos expõe a
hipocrisia de uma sociedade.
No caso da professora e da notícia, não se trata nem de
discriminação, nem de liberdade de expressão. É um facto! E todos temos direito
à nacionalidade, conforme está escrito na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948): Art.º 15 “Todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade”. A
nacionalidade é um direito consagrado à condição humana e nunca um fator
discriminatório, apenas algum preconceito pode determinar tal conclusão.
No caso passado no parlamento, mesmo que possa não ser
unânime, pois já temos a esquerda woke em polvorosa a pedir a demissão
de Aguiar-Branco, estamos no campo da liberdade de expressão.
É crucial reconhecer que a liberdade de expressão é um
direito fundamental, basilar para uma sociedade democrática. Essa liberdade
inclui o direito de expressar opiniões, mesmo que impopulares ou controversas.
Limitar a liberdade de expressão sob a alegação de “ofensa” é um caminho
perigoso que leva à censura e à autocensura.
Ao
silenciar vozes dissonantes, corremos o risco de criar uma sociedade homogénea
e intolerante, onde o debate aberto e a troca de ideias são sufocados. Cabe a
cada indivíduo decidir o que o ofende, e não a um grupo minoritário ou à
autoridade impor sua visão de mundo.
A criminalização da linguagem e a obsessão com a cultura do
“cancelamento” representam um ataque à liberdade de pensamento e ao progresso
social.
É importante que entendamos os perigos dessa nova era onde a
verdade é sacrificada no altar do politicamente correto.
O caso da professora em questão é um exemplo emblemático da
hipocrisia e do autoritarismo que grassam na nossa sociedade. É urgente
defender a liberdade de expressão como um valor fundamental, sem a qual a
democracia e o progresso social se tornam inviáveis.
Lembre-se: quem cala consente. Não podemos permitir que a
censura e a autocensura ditem o que podemos ou não dizer. É preciso ter coragem
para defender a liberdade de expressão, mesmo quando isso significa defender o
direito de os outros expressarem opiniões com as quais discordamos.
Fonte: Observador, 25 de maio de 2024
No caso da professora nem é um caso de liberdade de expressão. É um caso de modelo pedagógico, podem pintar-se de preto, podem rebolar, podem sonhar que todos são iguais, mas a verdade é que há diferenças entre nacionalidades e raças. E se quisermos levar o ensino a sério (ou os estudos sociológicos ou criminológicos) essas diferenças têm de ser tidas em conta, porque, a própria perceção da realidade, até a noção de espaço que nos cerca, depende da raça, da nacionalidade e da cultura. (Em japonês existe a palavra "ma", que se refere ao espaço entre as coisas, que não tem correspondência na cultura ocidental: nós "vemos" as coisas, não o espaço entre elas).
Perceção e pedagogia de imagem em contextos africanos: Moçambique
Frederico pereira
A situação linguística em Moçambique, tal como noutros países africanos, levou a adoção de uma língua oficial - o português - que não coincide com as línguas maternas.
Põe-se por isso o problema de as crianças enfrentarem um processo de escolarização numa língua que não conhecem, ou conhecem mal, e que é veiculada por docentes que em muitos casos, não a dominam perfeitamente.
Surgiu assim a necessidade de criar um meio de transmissão da língua oficial, o que levou à utilização sistemática de suportes visuais, e colocou, por essa via, a questão de imagem no campo pedagógico. De facto, à primeira vista devido à ausência de material gráfico, enfrentam as crianças (e os adultos) moçambicanas dificuldades de leitura e interpretação de imagens, dificuldades que uma vez constatadas obrigaram a colocar os problemas: «são as imagens usadas como suportes visuais de aquisição da língua suficientemente bem elaboradas? São as imagens usadas nos livros didáticos suficientemente “boas”? São as imagens utilizadas como meios de comunicação de massa (campanhas de saúde, por exemplo) as mais adequadas aos seus objetivos?».
Este tipo de questões não tem resposta uniforme, e além do mais envolve dimensões tão diferentes como a segregação figura-fundo, a mobilização de efeitos de profundidade, ou/e campo semiótico mais geral no qual qualquer imagem necessariamente se insere. Por isso, qualquer tentativa para dar a questões como as acima enunciadas uma resposta global está viciada à partida, exigindo-se estudos preliminares e bem delimitados sobre os vários aspetos em jogo, nomeadamente quanto à relação com a imagem das populações que não usam grafismo como meio corrente de comunicação.
O facto de se reconhecer que a «perceção pictográfica é construída como, uma habilidade funcional especializada cuja importância na educação moderna deriva essencialmente da proliferação de materiais imagéticos na cultura ocidental» (R. Serpell, 1979) exige uma mais adequada compreensão dos processos psicológicos que estão na base da «leitura de imagens», e que não são universais nem espontaneamente adquiridas na maior parte dos casos.
A situação torna-se mais clara se se reconhecer que as imagens não são «representações exatas» do seu referente, mas antes traduzem formas mais ou menos arbitrárias de representar as coisas, ou seja a representação imagética corresponde a um código, entre outros, essencialmente variável de acordo com o contexto histórico e cultural. Por isso mesmo, qualquer tentativa de enquadrar a «leitura» de imagens por populações africanas em modelos ocidentais parece estar condenada ao fracasso.
Neste sentido, a primeira questão a levantar é a de saber se o sujeito «leitor» de imagens domina ou não o código que foi utilizado para a construção do material gráfico.
Por outro lado, o sujeito ao «ler» imagens é chamado a mobilizar processos psicológicos que se constroem também fora da situação «leitura de imagens». Uma segunda questão, portanto, consiste em saber se a atividade percetiva regular do sujeito lhe facilita ou dificulta a compreensão de índices contidos na imagem, nomeadamente os indicadores de diferenciação figura/fundo ou os índices de profundidade.
A este tipo de variáveis centradas no código e no sujeito, acrescentam-se evidentemente outras, também de particular relevância em contextos pedagógicos, como o nível de familiaridade do sujeito com o nível de pertinência dos conteúdos imagéticos tendo em conta a situação psicossocial concreta na qual eles são mobilizados. Finalmente, e porque o indicador mais frequentemente utilizado do nível de compreensão de imagem é - erradamente, aliás - a fala, põe-se a questão de saber se o sujeito domina - ou até que ponto domina - o código linguístico no qual deve «traduzir» o que vê. No entanto deve sublinhar-se que é sabido, desde Vigotsky pelo menos, que «ver» é coisa diferente de «dizer o que se vê», e que não se podem fazer inferências quanto aos processos psicológicos em jogo na atividade percetiva a partir da produção verbal que tem como estímulo uma imagem. Dado o facto de, além do conhecimento, do código linguístico, também o grau de familiaridade com diversas pistas imagéticas (segregação figura/ /fundo, profundidade, sequencialização, etc.) depender do nível de desenvolvimento, esta é, igualmente uma das variáveis em jogo na análise de imagens.
Infelizmente, estes diversos tipos de variáveis (variáveis centradas no código visual, variáveis centradas na relação sujeito-referente, variáveis centradas no contexto, variáveis centradas no sujeito, variáveis centradas ao código linguístico, variáveis centradas no desenvolvimento) ainda não foram exploradas na sua complementaridade, tendo-se dedicado particular atenção a «leitura» da profundidade, pela razão provável de que esse é um campo em que a operacionalização é mais fácil e à simples «legibilidade visual da imagem».
Neste último caso estão os estudos clássicos de Kidd, Forge, Degerowski, e outros, e mais recentemente, observações naturalistas realizadas em Moçambique, e inseridas na ação da alfabetização aí desenvolvida. Estas observações mostram que os sujeitos, têm uma visão parcial dos materiais visuais propostos, centrando-se em detalhes conhecidos e perdendo de vista as restantes partes das imagens. Estas dificuldades aumentam quando se trata de imagens complexas, que representam vários elementos combinados ou justapostos. Um aspeto interessante, a assinalar é a dificuldade em perceber representações parciais (bustos, por exemplo) ou objetos apresentados numa das suas formas menos habituais. (ex.: uma folha de chá). (Relatório sobre Alfabetização, Maputo).
No que respeita a sequencialização, observações do mesmo tipo mostraram que «os alfabetizandos têm dificuldades em estabelecer a relação entre imagens diferentes por não reconhecerem neles estados ligeiramente diferentes duma mesma coisa ou (a descrição) de uma ação».
Outros trabalhos, mais específicos (Raquel Delgado Martins, Ivone Niza, Frederico Pereira), realizados com materiais de Moçambique, mostram as mesmas dificuldades na sequencialização. A origem destas dificuldades deverá encontrar-se mais no carácter arbitrário da sequencialização gráfica e no efeito diferencial das diversas imagens sobre as estratégias de centração percetiva, do que em qualquer outra variável ...
(…).
Uma interpretação especulativa de Dutoit (1966) insere-se no campo da «tese de Sapir-Whorf». Pretende Dutoit explicar as dificuldades no campo da perceção tridimensional de imagens por populações africanas, por razões linguísticas. Concretamente, a não-codificabilidade lexical do conceito de profundidade pelas línguas bantu tomaria difícil a elaboração das estratégias cognitivo-visuais de exploração dos índices de profundidade. Estas hipóteses, no entanto, enfrentam duas dificuldades de peso: - em primeiro lugar, não se percebe, nem pelas referências que lhe faz G. Jahoda, nem pelo próprio trabalho de Du Toit, o que entende ele por «léxico de profundidade». Se se trata de noções como, por exemplo, «perto», «longe», «aqui», «ali», etc., a observação é incorreta, uma vez que, evidentemente, as línguas bantu dispõem de unidades lexicais correspondentes (I).
(I) Em Maconde, por exemplo, a «realidade» codificada pelo léxico de profundidade parece ser mais diversificada do que em muitas outras línguas: kechu (longe), pepi (perto), pepi e pa (perto de), Kuvizndika (estar perto de), kula, akula, (ali), Kako (ali mesmo), hawa, hapo, kuni, a kuni (aqui), chiluta (distância, espaço andado).


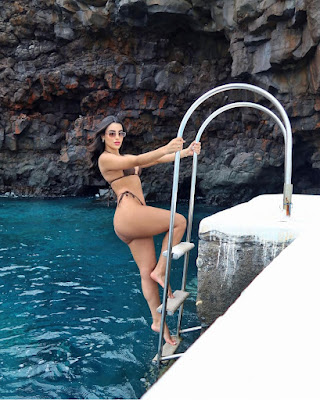

Comentários
Enviar um comentário